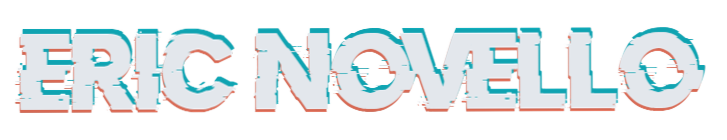*O conto “Bugigangas” foi originalmente publicado na coletânea “Assim você me mata”, ed. Terracota, 2012. Uso e reprodução somente mediante autorização do autor.
Tô sempre contando essa história. Parou alguém perto de mim por mais de um abraço e é essa a ponte que eu atravesso, toda enfeitada de lanterninhas chinesas, embora da China mesmo eu só conheça o frango xadrez. É uma abertura maior que um carinho, um segredo feito para ser revelado, e volto nela sempre que posso, fingindo procurar um detalhe que tenha me passado despercebido. Me basta uma única chance, pode ser num vinho depois da janta ou numa roçada de pé embaixo do cobertor, e eu enfio a mão bem fundo no armário e puxo para fora o baú de bugigangas que também é a minha cabeça e fico lá remexendo, as pontas dos dedos já meio mortas e dormentes, para ver se entendo, enquanto conto, o que aconteceu.
Não é nada muito complicado nem muito novo. Não morreu ninguém no caminho. Digo, até morreu, mas de idade mesmo, nenhuma vítima de um desses assassinatos que se desenrolam em uma boa trama policial. Então, assim sem mistério e perícia ou um alienígena bem grande que nasce de dentro da barriga das pessoas e baba do teto depois de adulto, tem quem durma logo de início, quem puxe o cobertor mais para cima e cubra a ponta do ombro, em um sinal claro de que o comercial foi muito longo e os olhos começam a pesar. E tem também quem faça sexo, muitos quens, se me permite dizer, porque o beijo é o melhor jeito de calar minha boca e de boca calada é em sexo que eu penso, e naqueles brinquedinhos legais de sex shop como óleos aromatizados que esquentam, papéis de menta que esfriam e umas coisas coloridas que até hoje não aprendi a usar.
A vantagem dessa história é que ela não precisa de um ouvinte com real interesse, somente da companhia. Pode ser gente, pelúcia puído ou pinguim de geladeira. Um gatilho imaginário para eu catar no bolso a chave e, como quem faz um gesto casual, a mão balançando no ar falando que isso e aquilo, colocá-la na fechadura e abrir a porta do armário onde está o meu baú.
Não existe um baú.
Mas existe. De madeira escura, contornos dourados e uma palha no fundo que eu consegui desmanchando cordas de uma bandeja que enfeitava a mesa da minha avó muito depois de ela partir.
E isso me causa um problema.
Apesar de saber de cor cada um dos objetos que compõem as memórias nele guardadas, um ou dois livros recostados nas laterais, ainda sigo procurando um ponto de partida. Por já saber o fim, sendo ele o exato momento em que me encontro, o grande mistério (que não existe) é descobrir o meu começo, entender como a história que era minha um dia virou a de um outro que talvez ainda seja eu.
O que eu me lembro assim, de cara, é da minha caixa de gibis. Uma de papelão que tinha sido a embalagem de um telescópio de brinquedo de tubos amarelos que eu montei e deixei no móvel de gavetas do lado da janela, apontado para fora. Então a caixa ficou vazia, sem utilidade, e os gibis que se acumulavam e junto com eles muita poeira foram parar nessa caixa, protegidos por um Batman de pé quebrado que dizia oh, não desista, garoto prodígio.
Quando ia alguém lá em casa, eu a puxava de baixo da cama com cuidado, fingindo conter um material extremamente frágil. Moleque que era, ficava de olho para ver como reagiriam à descoberta. O que hoje eu sei e na época não sabia, por isso só achava divertido, é que sucesso tem muito menos a ver com talento e mais com expectativa. E para muita gente, uma caixa de telescópio que guarda gibis superava todas elas.
Então tinha essa caixa que não era feita daquele papelão meio pardo, e sim de um cartão branco e resistente, com uma tampa colorida mostrando tudo o que você podia montar com as peças amarelas, não só um telescópio, mas também um microscópio, em um você se sentindo muito pequeno, e no outro muito grande, em ambos um universo intangível se você fechasse os olhos. De todos os quadrados que a dividiam, o que eu mais gostava trazia uma lua, uma montagem desproporcional. Hoje qualquer um acharia uma dessas na internet em menos de um minuto, mas na época não tinha internet, e uma imagem da lua bonita como aquela só em revista de domingo junto com o jornal, propaganda de uma praia paradisíaca para você passar as férias se fosse alguém melhor que os demais colegas do escritório.
Foi por causa dessas divisões em quadrados e retângulos que me veio a ideia de guardar lá dentro os gibis. Para mim, fazia todo o sentido, uma ligação incontestável e um tanto óbvia, por isso a surpresa ao notar o espanto das pessoas quando eu abria a caixa e mostrava que o conteúdo nada tinha a ver com aquele quebra-cabeça de lentes e prismas e suportes de plástico.
Você deve imaginar que para algumas pessoas não é muito divertido ter um telescópio, então eu tinha pessoinhas com balões de diálogos e raios na capa. Se com um eu olhava o longe, com o outro eu olhava para dentro de mim mesmo. No meu mundinho de gente com roupa colorida colada no corpo, homens musculosos vestindo lycra e mulheres com mecha branca no cabelo, eu tinha a certeza de que todos os heróis eram muito conhecidos e tentava falar com os vizinhos e outros meninos do prédio sobre os personagens. Nunca imaginei que gostar de gibis me tornasse parte de um nicho, que graças àquele cara com fantasia de morcego eu já pertencesse a um grupo, embora não conhecesse nenhum dos outros participantes nem soubesse o endereço de nosso QG secreto, com bat-coisas-indestrutíveis sempre à mão.
O jeito de ter gente por perto foi transformar o meu quarto nesse QG imaginário e espalhar cada vez mais gibis sobre a cama com lençol de barquinho e bichos fofos, e mostrar o quanto era adulto ter um telescópio na janela e saber que o Batman não existia só naquele seriado engraçado que passava na televisão, e que o uniforme nunca, jamais, deveria ter ganhado mamilos salientes no cinema.
Assim eu segui até entender que os vizinhos se interessavam mais pelos gibis do que pelas histórias do seu dono, e, no fim das contas, que eu não era dono de nenhuma delas, nem das que eu lia e guardava embaixo da cama, nem das minhas inventadas. Acho que foi aí que perdi a necessidade de atenção da plateia e me dediquei a apurar os sentidos. Mais importante do que ser quem eu quisesse, no meu mundinho eu podia escolher quem entrava e quando eu saía. E isso eu fiz questão de deixar bem claro, um processo de exclusão de mão dupla que me levou a procurar amigos que se avizinhassem por afinidade e não por endereço, a melhor jogada da minha vida.
Como consequência, joguei os gibis no lixo. Mudei de caixa, uma de papelão de supermercado, e a coloquei na lixeira. Assim que descobriram, eles se reuniram no corredor do edifício para dividi-los entre si, sem nem tocar a campainha. Meu corredor nunca estivera tão cheio. Se eu pudesse voltar no tempo, teria salvado parte dos meus heróis, jogado fora apenas os amigos.
A idade e a internet mudaram o meu QG de lugar mais uma vez, o passado só uma urticária no elevador quando tinha o azar de esbarrar com algum deles. Na maior parte do tempo, eu me divertia com gente que nem sabia o nome. Nada mais de estampas coloridas e joelhos ralados no play. Meu uniforme agora era preto, com coturnos resistentes e um cabelo grande e bagunçado para flertar com meus novos heróis: Robert Smith, Morrisey, Peter Murphy e Michael Stipe. Os superpoderes do meu quarteto fantástico eram outros, muito mais eficientes em desvendar o que eu guardava bem lá no fundo do baú. Bastava ouvi-los para ter identidade. Bastava dividir o fone do walkman para que soubessem que o garoto dos gibis tinha ficado para trás.
Quando eu saía tarde do colégio e ia direto para os encontros com amigos do mundo virtual, levava além do walkman dois bótons na mochila. Um deles, azul-escuro com um alien verde de anteninhas, trazia a frase “só falo com seres da minha espécie.” Esse, todo mundo queria, inclusive uma mulher que devia ter bem uns quarenta anos a mais do que eu e que vivia tentando me levar para a cama. O outro deixava todo mundo confuso, um riso de canto de boca e um essa é boa, hein, porque não entendiam a real intenção. Nele, apenas a frase “Be nice to your enemies. It really makes them confused.” Eu adorava repetir aquilo de peito franzino estufado, embora o significado, vez ou outra, também me escapasse.
Eu o tinha ganhado de uma amiga que viajava muito, que conhecia de países mais do que eu conhecia de bairros, mas que me tratava de igual para igual. Foi ela quem me apresentou o modem e a conexão discada. Foi ela quem me ensinou a beber nos encontros de BBS.
Com a dose certa de álcool, aprendi, pouco importa sua roupa ou os bótons na mochila. Ou com quem você está quando larga os dois no chão.
Logo que eu comecei a ter idade para não falsificar a carteira e tomar bons porres de sangria, adicionei grupos mais alternativos ao meu currículo, pôsteres enormes na parede e pulseiras de couro no braço. Fosse com uma roupa cafona de mauricinho, camisa para dentro das calças em uma boate de dance music, ou em um inferninho obscuro, com tantas variações de preto quanto se pode ter, eu estava sempre atrás dela, de quarta a domingo, testando os lugares que a noite me mostrava como um potinho interminável de ambrosia. Nossos gostos eram muito diferentes, mas às vezes coincidiam, geralmente quanto às bocas que beijávamos, fosse juntos ou separados. Lembro que ela usava presilhas que brilhavam no escuro, o que não fazia a menor diferença sob as lâmpadas de luz negra ou os globos espelhados, e que eu sempre dizia que elas acabariam derretendo no tanto de gel emplastrado em seu cabelo.
Foi ela quem falou que, para mim, as cores das bebidas eram mais importantes do que o gosto, me definindo mais do que podia imaginar. Menta com chope, cerveja com groselha, licor de pêssego com vodca e guarda-chuvinha na borda. Eu ria daquilo tudo, voltando para casa às seis da manhã depois de ver o sol nascer na orla mesmo quando era My dying bride quem detonava os meus ouvidos.
Ao olhar para trás e ver o quão pouco tínhamos em comum, não é de se espantar que o carro onde transamos logo tenha enchido de gente, uma gente tão diversa e mais interessante que acabou pegando o meu lugar. Meu riso foi ficando desconfortável, o beijo uma obrigação moral com gosto de batida maracujá, o preço da passagem de ida e volta na carona e, em algumas noites, da guarita em seu apartamento. Até hoje, basta fechar os olhos para me lembrar do aromatizador em formato de coração que ficava perto da balas e bombons, uma espuminha branca que eu sempre esquecia o que era e enfiava o dedo, me sujando inteiro. Graças a ela, agora que somem as imagens, o rosto, a voz, as maluquices divididas, resta o cheiro enjoativo de uma época mal dosada, cheia de exageros e refluxos de bile.
Sem a minha guia noturna, as noites viradas junto com as jarras de sangria, meu cabelo foi diminuindo, as roupas clareando, enquanto eu me recolhia novamente ao meu mundinho e elegia guardiões remodelados, dessa vez contratados nos livros. Livros curtos e imensos que me ensinaram a trancar a porta do quarto e virar a noite com os olhos cheios de vidro moído.
Pensando bem, não é no aromatizador de cereja e nos inferninhos que começa essa história, e sim na primeira imagem que guardo de minha mãe. Um intervalo em movimento como num filme antigo, a textura já granulada e com rabiscos, as cores vivas somente o suficiente para que eu me lembre delas. Eu já me sentia menino crescido no uniforme do jardim de infância, uma camisa branca com letras azuis combinando com o short, e caminhava de mãos dadas com ela em uma rua lateral ao pátio da escola, que ocupava um quarteirão inteiro.
Dentro de uma loja de acessórios, ela escolhia pulseiras prateadas para combinar com as tantas que já trazia chacoalhando enquanto se movia. Usava botas de couro na altura do joelho, saias descoladas e cintos grandes, cheio dos apetrechos de metal que a época permitia. O cabelo, abaixo dos ombros, tinha um castanho tão vivo que de longe queimava as retinas, meu afetivo pôr-do-sol.
Eu gostava do passeio, embora dele nada aproveitasse, pelo simples prazer da companhia. No entra e sai de lojas baratas que pareciam chiques, eu segurava a mochila de menino-homem, no ombro a lancheira vermelha, e me perguntava como o futuro se revelaria. Uma pergunta inserida mais tarde, de trás pra frente, lendo cartas com conselhos, dicas de meditação e receitas, para entender o motivo de tudo ter dado tão certo e ao mesmo tempo tão errado.
Ali de perto, tão miúdo que eu era sem imaginar que viraria um gigante, eu a puxava pelo braço, sem pressa, só para vê-la transpirando vida. Hoje, sentado na cadeira do computador, viajante de um tempo não linear, se eu pudesse regressar por cinco minutos a ser aquele menino tão admirado com tudo, me bastaria fazer uma única pergunta:
Por que, mãe?
Por quê?
E assim eu descobriria.